trânsito e corpo da língua nas Arqueologias de Prisca Agustoni

Podemos pensar esta leitura como escavação manual feita por uma criança, em que se tem terra na pele e se é indiferente à palavra que a sujaria. À luz de Verônica Stigger, quando comenta no prefácio que "não há, aí, escavação sem invenção, investigação sem fabulação" há uma busca na memória e lembrança de que toda memória é também fabulação. Prisca Agustoni, poeta suíça, fala da poesia que leremos como algo que "se fez coletivo" a partir do acesso, da abertura, absorvida no contato com a fotografia do francês Marcel Gautherot*.
Há também uma pista como epígrafe: que se ouça, enquanto lemos, a música de Villa-Lobos. O que é iniciar o livro guiando quem o lê através de um som? Começar um livro evocando um som, convidando o som e convidando quem lê à cumplicidade no gesto. Se tocarmos, por exemplo, as Bachianas Brasileiras, com sua Embolada introdutória, seremos acompanhados até o café do primeiro poema do livro, mas, em algum momento, a síncope irá nos arrancar ao exílio: nosso terreno é o mundo do meio-caminho, a reboque dos pescadores / e da caatinga. Somos, agora, guiados por ela, mensageiros do trânsito.
O livro é dividido entre PRELÚDIO, DA TERRA, DAS ÁGUAS, DO CÉU e DAS CINZAS. O caminho, então, segue a senda que leva em direção à esse rumor elementar.
Ainda no poema iniciação o que logo fez da palavra enxuta / exato movimento, é o sumo do prelúdio em que é dado o tom de toda a obra: a autora faz uso das texturas e objetos, percebidos pela passante, partindo da minúcia em direção ao verbo, como mote do ritmo e visões que virão à frente. E há, ainda, na falta de umidade da palavra enxuta, certa lembrança aquosa a partir do que falta. É de se notar que, na presença, as ausências também falarão por todo o trajeto.
Em bagagem é dada a partida rumo a uma história universal de migração – também – metafísica. A encruzilhada dos navios é o meio-caminho constante da personagem infixável, guia destas Arqueologias, e o nosso.
Seguindo o acesso, em carta de viagem (1), ninguém sabe como partir de verdade. Sair e deixar o quê é se deixar? Nesse deslocamento interno, o mar é uma quase invenção, terreno revirado, para que nós, que saímos de uma praça, terminemos à espera / dos astros e dos corais. Para que nós sejamos, ainda, como as formigas / que desmantelam o caos, contra as fronteiras que tornam a migração uma vacância criminosa. Para costurar / a fronteira de nossas palavras e desmantelar os continentes, marquem-se os encontros, costurem-se as línguas, a transformá-las num coletivo em prol da linguagem, em prol, ainda, de seus povos que a geraram e a geram diariamente, fazendo dela matéria viva que responde somente à vida.
Então a noite cai / súbita e ameaça / as crinas do oceano, evocando a ameaça à uma imagem. Uma imagem é ameaçada? Nós, então, somos evocados, quando a noite nos cega, tornados também fragmento da linguagem, em disposição ao seu uso. Somos também ameaçados. Já estamos dentro do livro.
Algo está em vias de rebentar. Duas terras são ligadas em chegada (1) – Além da esquina / o oceano / bate / corpo adentro – a partir de uma personagem que é levada pelo trânsito. A segunda pele que sela o poema dá carne-viva ao trato, colocando a dupla corporificação entre imagem e matéria.
Ainda lendo a primeira chegada, na página seguinte vemos um outro poema nomeado de chegada (2). Porque a escolha de numerar os poemas? É certo que voltarão. É quando lemos a sequência, que intuímos: mais que outros poemas, são os mesmos transmudados. Retomar um poema é uma das Arqueologias, referindo seu título e ambiência à algum semelhante que veio antes, para contar uma mesma e outra história, noutra página.
Daqui em diante, as fotografias de Gautherot – com o olhar ensandecido por visagens brasileiras – serão um mapa possível, como já foi um mapa possível à poeta a Caverna das mãos, em seu poema Rastros** que se forma a partir de 829 silhuetas de mãos, 829 balbucios, num sítio arqueológico da Patagônia. As fotografias foram um dos nortes da migração. Então, a escavação direciona-se às imagens e as traz de volta ao mundo, revoltas, numa releitura do olhar. O olhar por outros olhos.
O tom sobe e é avivado em Carro de boi: o movimento da boca, quando lê direcionando a voz ao mundo, é alternante entre as batidas: céu, dentes, lábios e língua, formando uma percussão que barulha como a roda do carro em estrada acidentada:
entre a linha e a curva
o segredo
da metafísica do boi
que aparenta ter asas
para encarnar a leveza
o arcabouço do mito
Com o trânsito acelerado, a imigrante do entre-mundos se aceita viajante, e na franja úmida / entre os continentes já é formada a primeira tessitura de um espaço em que a fronteira é irrelevante: valiosos são os relevos da terra. A viajante dá ouvidos à sintaxe que rege / o grito da terra, que paira agora na página. O estrondo não é silenciado pela fala mansa dos bois que vem em seguida, o estrondo é ritmado com a voz bovina a partir da temporalidade abissal que há nos dois sons desde muito. Mais precisamente, desde que o mundo é mundo.
Prisca monta, no capítulo DA TERRA, uma colagem de geografias arrancadas de suas datas demarcadas para contar o que está fora desse lugar (tempo). Esta é mais uma das Arqueologias que compõem a pequena cosmogonia estendida do que lemos. Uma metafísica dos abismos é evocada, trazendo, míticamente, uma baleia a par de uma sereia, povoando o sertão com o jogo de (re)posicionar as pedras. Gesto de mover o objeto que é mirado, quando a cabaça carregada pela mulher é, na verdade, o mundo inteiro. De Bom Jesus da Lapa sai a suspensão total.
Em que se colhe a harmonia / no salto a meia-lua em Jogo de capoeira, no poema Guerreiros (festa popular), c. 1943 / Maceió-AL há a imponência solar. É outro avivamento e um aviso: cuidado guerreiro, se atente ao que é dito no não-dito. O guerreiro já atentado e ao punhal, sabe que há outros astros reinando à terra, nos espaços em que a violência, o choque brutal entre massas orgânicas, é maneira de continuidade, cultivo de alguma permanência: os guerreiros usam facas / para partir o tempo.
Aos poucos o livro é infiltrado: em intermezzo as palavras, encharcadas, amadurecem como fósseis / milenares na terra. São as manifestações da cultura popular em DA TERRA que atiçam o reflorestamento da linguagem, a partir de sua presença no jogo produzido pelas celebrações, pelos ritos populares que atravessam o tempo e permanecem nos povos, movimentos que cruzaram fronteiras sem a lógica das máquinas e produziu menos acúmulos e mais do tecido dispendioso que alimenta a própria língua.
É preciso lutar pela terra, ainda. Agora, o passado mórbido que persiste é contra-atacado, em defesa da vivacidade que foi recém celebrada. Somos levados à Brasília: Praça dos Três Poderes, e lembrados de que a cidade que estrutura o poder, que serve como sua morada, surge dos ossos da morte. Como arautos, as páginas seguintes nos atentam aos tentáculos, cada um um sanguessuga. Nos atentam que, inalterado o presente, voltaremos ao passado e que toda arqueologia seria em vão se não nos lembrássemos quem seremos. Voltar à terra para (re)conhecer o caminho que nos devolve à ela, nos labirintos da maquinaria.
Uma das Arqueologias é fabulativa das formas, do próprio lugar em que direcionamos o olhar: o Congresso Nacional pode ser, sim, um astro, pode ser revisto, re-visado em sua concretude. Sua arquitetura se deve ao mesmo fruto que reaviva a língua. No seio de um país, há o povo que carrega sua cabaça. O congresso fotografado por Gautherot, da arqueologia visual em que mergulha Prisca Agustoni, é povoado pelos trabalhadores, para sempre os símbolos de um país que ainda / será.
Ainda antes da Cena urbana - Salvador, em que o dia nasce a partir das próprias figurações, de um insolente esgar do tempo, a língua retorna, então, à Moradia nos arredores da cidade / Sacolândia. Surge um novo corpo, ligado à um passado profundo, inseparável das costuras que sustentam sua história: coletivo visceral a partir das folhagens, eternizado em cantos pela própria língua que falará:
árvores
suspiros vegetais
artérias regando o céu
lençóis brancos
memórias quarando
no sol
(orquídeas em voo)
pipas
um rosto feminino sai
do tronco e vinga
sobre a terra,
no branco dos sapatos
da criança-quimera
É, enfim, retomado o fluxo de uma ordem natural. Continuamos levados pelo trânsito e nosso caminho é permanente em que A cada hesitação do mapa / abre-se um atalho / atravessado pelos bois. Quando levamos o quê, em nosso deslocamento migratório, estamos levando um pedaço de nossa terra, de nós mesmos? Um povo vive de sua língua. A cadeia improdutiva de transformação da língua, e porque não do trânsito também da língua, esse assombro vigoroso, carregado e (re)figurado por todo corpo que a carrega, também carregado por ela.
Recebemos uma revelação: levo na língua / as pátrias como os peixes // escorregando.
Agora sabemos que ainda estamos lá de onde saímos, estamos aqui e lá. Ser estrangeiros e pertencentes, riscando o horizonte e notando que não há estrangeiros numa terra remapeada sem as fronteiras que jamais a pertenceram. Todo fim carrega um novo começo, todo começo carrega um novo fim. Há o que surge das extinções, há o que permaneça e, erguido pela terra, seja querido por ela, em sua postura sintonizada com o que apenas é.
O caminho trilhado em Rio Amazonas I concebe alguns de seus fragmentos que formam seu nome, isto é, seu nome coletivo: Apurímac / Urubamba / Solimões. Concebe também um silêncio. Mas, se aceitado o convite sonoro à entrada no livro, Heitor Villa-Lobos ainda toca. Então como permanecer o silêncio quando solicitada a música? O próprio Villa-Lobos responde – quando perguntado por Tom Jobim como conseguia compor em meio à tantos ruídos externos numa determinada situação – em ressonância com uma arqueologia do corpo: “menino, o ouvido de fora não tem nada a ver com o de dentro”. O silêncio da viajante é materializado, corpo surgido de uma fenda, turvo: que é quase visível; irrefreável como o passeio infinito em que somos levados pela mão.
Em estado de navegação, há ainda a espera, há as navegações interrompidas e o trânsito entrecortado pelo naufrágio. Há os refugiados, das migrações forçadas que parecem sem fim, de uma permanência que reside num não pertencimento sujeitado. São os filhos da espera, que, num trânsito que não o seu, arrancados de si, são subjugados à outras línguas – ainda que dentro da sua própria – quando são instrumentalizadas como meio de dominação. Nesse caso não há fluxo, só caminho inter-rompido. Mas somos lembrados que, dentre os filhos do naufrágio, sempre haverá os que irrompem e sobrevivem à eterna noite.
Como espelho natural, sem face a que se veja, as águas são transmutadas em céu – palavra como rio, sempre coletiva em sua magnitude.
Aportamos num povoado do mundo e, através da festa popular de Alardo, retornamos os pés ao solo duro mas permeável, seja através da terra, seja atravessando as vigílias com a dança, com aquilo que é invisível / que é ciranda na ponta dos pés. Esse tato permanente, con-tato, trocado, entre nós e o espaço, renova o espelho natural. O senso desse espaço é implodido quando lemos que o céu está ao nosso lado, refletido na relva de onde acabamos de sair.
Atravessamos as Salinas de Macau, acompanhados pela Romeira, num retorno espiralar aos ritos populares: Carnaval, Festa de Iemanjá, o Maracanã como um coliseu de todo-o-mundo. E sabemos, como que pelo ar que circula entre as páginas, que o território é, acima de tudo, brasileiro. É transcriada a visão a partir, primeiro, da câmera manuseada por Gautherot, depois, pelo poema que marca a página frente aos nossos olhos, e por último, e mais ainda, pelas imagens (re)produzidas a partir do fluxo transcriativo que ergue estas miragens que vão surgindo. São os olhos da moça de mirada esfíngica; as três mulheres arrastando um canto que dança na língua; a mão do homem que vira o leme do destino; os deuses encarnados que parte-a-parte formam um corpus epidérmico de linguagens. Dito pelo não-dito do Bumba meu boi, não há porque parar agora:
em homenagem ao boi divino:
pedras preciosas coladas
na frente do animal,
um longo pescoço de veludo
que esconde o despojo,
o dogma em carne e osso
entra nos olhos cortantes
do garoto que dança
na pele de um deus profano
Na alquimia interna do livro, o que é banhado pelas marés torna-se cinzas, a matéria ainda é impermanente ao contato e apreensível apenas por uma poética – apreensora que liberta – que rememora a passagem do fogo. Recai sobre nós mais uma das Arqueologias, a dos elementos.
Se pensarmos o lugar da estrangeira, da que nasce lá e vem até aqui, é menos a geografia dos mapas e mais a dos verbos consubstanciados, que diz respeito ao não-lugar da língua que se renova a partir de outras, que não sabe de invasão de coisa-viva alguma, das coisas que chegam, sim, para compor a floragem. Mal chega-se às cinzas, a seção já abre com menção ao renascimento, em epígrafe de Blaise Cendrars (car écrire c’est brûler vif, mais c’est aussi renaître de ses cendres***), de um renascer em nova terra a partir da identificação comum e não nomeada entre outros. Mistura de seivas derramadas à uma terra desmedida.
Prisca povoa ainda mais a mata aberta das Arqueologias, com estrangeiros que também foram seduzidos pela graça daqui. Sendo, cada um, parte do corpo transitório dela mesma, e os olhos repletos do encanto de Gautherot, cada um em complemento com sua particularidade na distribuição das imagens. É nossa a transmutação atiçada, é nosso o movimento contínuo em direção ao ir-além, é impossível / o ponto final do corpo em comunhão, ritmado com os tambores de Minas / ecoando, que vemos em Blaise Cendrars - 1.
(Quem dirá que a fotografia de Gautherot não é brasileira? Quem dirá que a poesia de Prisca, das várias línguas em outros livros, aqui, não faz parte em nosso bioma linguístico? Permanece a estranheza que move, permanece a força motriz do fluxo, e não há mais estrangeiros numa terra sem fronteiras.)
A viagem circula o país numa caravana, sempre numa busca arqueológica pelos mistérios brasileiros, que permitem as Brasileiras serem também Bachianas; o vasto, o balbucio tão abissal quanto um cataclismo ou um mugido, uma mansidão em que o atrito é fusão constante, o outro, o outro, o outro. A estranheza, sempre estrangeira, é a diferença nossa que abre a vereda das transfigurações, da continuidade de uma língua em meio ao gosto amargo dos metais. A língua vive do trânsito entre-povos, do que está entre a utopia e as tartarugas, da inumerável equação do que vibra.
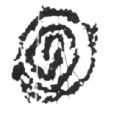
(https://ims.com.br/titular-colecao/marcel-gautherot) **Publicado em formato de plaquete no Círculo de Poemas. ***Pois escrever é arder vivo, mas também ressurgir das cinzas.





